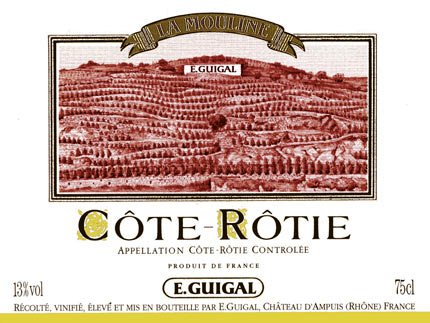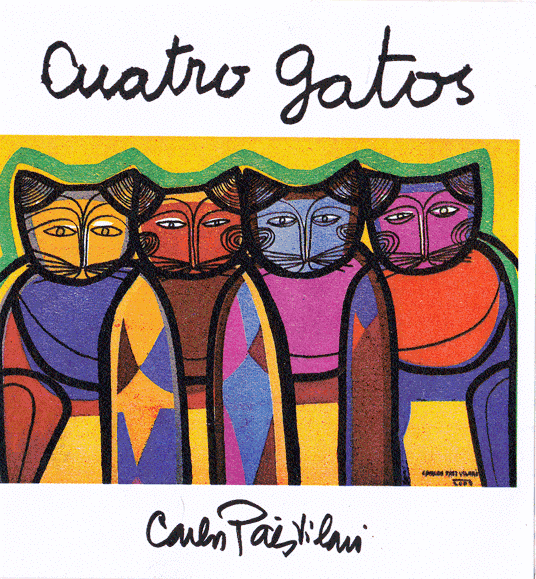Escrevi um artigo sinuoso e pouco afirmativo em dois tempos sobre a propaganda de produtos supérfluos e ligados ao prazer para a revista “Free Time”. Reproduzo, reviso e complemento o segundo tempo dela, neste generoso espaço do “Falando de Vinhos”, por supor que são dois veículos dirigidos a públicos diferentes, por mais que haja coincidências de leitores. Aviso que é um texto que mais parece um rascunho, que provavelmente mereceria apenas a atenção dos ratos e das traças, se fosse ele de papel e não um material assim tão etéreo como o do navegador virtual que lhe carrega de passagem.
Escrevi um artigo sinuoso e pouco afirmativo em dois tempos sobre a propaganda de produtos supérfluos e ligados ao prazer para a revista “Free Time”. Reproduzo, reviso e complemento o segundo tempo dela, neste generoso espaço do “Falando de Vinhos”, por supor que são dois veículos dirigidos a públicos diferentes, por mais que haja coincidências de leitores. Aviso que é um texto que mais parece um rascunho, que provavelmente mereceria apenas a atenção dos ratos e das traças, se fosse ele de papel e não um material assim tão etéreo como o do navegador virtual que lhe carrega de passagem.
Pois bem, sem mais firulas, no primeiro tempo, depois de fazer um arrazoado mais ou menos longo sobre as dificuldades que sofre um ícone aristocrático para anunciar-se como produto de mercado, escrevi o que vem abaixo:
A Propaganda do vinho
Acabei o artigo anterior refletindo sobre as dificuldades que o mundo da comunicação tem para anunciar produtos que saem do nicho restrito a produtos de elegância e excelência para cair na real do consumo diário. Chamei a atenção para o vinho, por ser, no meu entender, o desafio da hora.
O vinho é um produto fora de padrão por várias razões que merecem uma pequena história – junto com a cerveja, é fruto de fermentação conhecida há mais de cinco milênios. É produzido e consumido por diferentes culturas de diferentes origens. Está na restrita família dos produtos bíblicos que se manteve até os nossos dias. É fruto da terra e do trabalho do homem, como o azeite da oliveira, o pão do trigo e cerveja de cereais. Qualquer amassamento de uva seguido de um processo de fermentação natural ou induzido, proposital ou acidental, pode ser chamado de vinho, o que lhe dá uma grandeza desmedida – queiram ou não os seguidores de algumas seitas protestantes e fundamentalistas, que não sabem como impedir o consumo do álcool entre os seus seguidores, na medida em que ela está presente em tantas referências do Velho Testamento Biblíco. É verdade que este vinho bíblico não era um produto comum, mas “casher”, diferenciado na manipulação, na vinificação e no uso sagrado, como me explicou Anete R. Ring, importadora de vinhos e azeite de Israel no Brasil. O vinho era cozido, ganhando, aos olhos dos responsáveis pelos antigos mandamentos, sua divinificação, pois manipulado de modo a destacar-se do vinho feito acidentalmente e sem qualquer ritual… Ou seja, o vinho tribal, pagão.
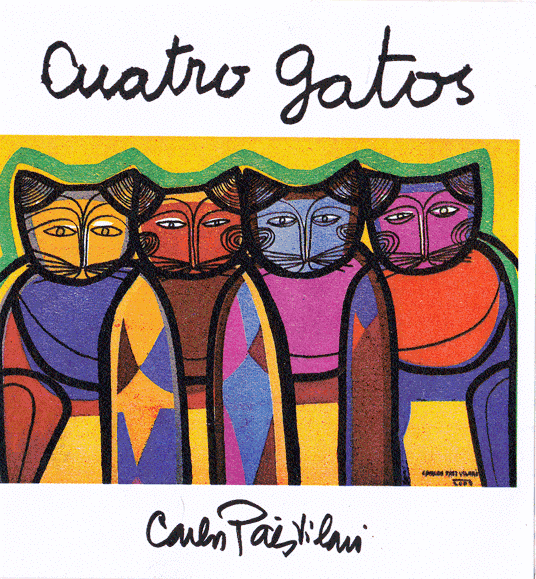 É conhecido enquanto produto por todo o mundo ocidental, sendo que boa parte desta população tem em seu DNA algum parentesco – mesmo que distante no tempo e no espaço – com algum produtor de uvas e vinho. É, portanto, um produto assimilado, fácil de determinar, com o uso bem definido?! Sim, quando se pretende apenas falar do vinho em geral. Não, quando se pretende definir um nicho e menos ainda quando se quer lançar um produto específico. Pois o vinho é um produto manhoso que se esconde sobre esta capa de simplicidade. Há circulando no Brasil, mais de 20 mil rótulos diferentes, dos quais ao menos 2/3 foram produzidos na América Latina, quase 1/3 nos países do Velho Mundo e a pequena parcela restante vieram da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e América do Norte, além de alguma coisa vinda do Oriente Médio. Entre estes 20 mil rótulos, se encontra produtos que custam para o consumidor final, menos de R$10,00 e há outros que custam mais de R$10.000,00, todos carregando o título de vinho, por mais que alguns deles sejam frutos de procedimentos, que não passariam (como não passam) por controle de qualidade mais rigoroso, como o da Comunidade Européia.
É conhecido enquanto produto por todo o mundo ocidental, sendo que boa parte desta população tem em seu DNA algum parentesco – mesmo que distante no tempo e no espaço – com algum produtor de uvas e vinho. É, portanto, um produto assimilado, fácil de determinar, com o uso bem definido?! Sim, quando se pretende apenas falar do vinho em geral. Não, quando se pretende definir um nicho e menos ainda quando se quer lançar um produto específico. Pois o vinho é um produto manhoso que se esconde sobre esta capa de simplicidade. Há circulando no Brasil, mais de 20 mil rótulos diferentes, dos quais ao menos 2/3 foram produzidos na América Latina, quase 1/3 nos países do Velho Mundo e a pequena parcela restante vieram da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e América do Norte, além de alguma coisa vinda do Oriente Médio. Entre estes 20 mil rótulos, se encontra produtos que custam para o consumidor final, menos de R$10,00 e há outros que custam mais de R$10.000,00, todos carregando o título de vinho, por mais que alguns deles sejam frutos de procedimentos, que não passariam (como não passam) por controle de qualidade mais rigoroso, como o da Comunidade Européia.
Dito isso, o briefing criativo para a agência de publicidade que pretende apresentar um deles ao consumidor, começa a se fechar com informações que localizam o produto no mercado restrito dos vinhos. Cada um está numa posição diferente entre mesmos produtores. Pesquemos um exemplo concreto: o respeitado vinicultor das rendondezas de Alba no Piemonte italiano, Pio Cesare, produz Barolos e Barbarescos de grande qualidade, orgulhosos com os 42 meses que passam em madeira muito superior às exigências da legislação que controla o uso de suas denominações, ou seja, ao menos 36 meses para o primeiro e 30 meses para o segundo em madeira, além de dois anos em garrafa antes de ser comercializado. Com a uva Nebiollo, a mesma utilizada para fazer os mesmos vinhos nobres citados acima, ele faz um vinho catalogado como Langhe Nebiollo, mais despretensioso e competitivo.
Como sua comunicação deve se comportar, desde o rótulo até o anúncio? Deve pegar carona na história e  tradição da casa centenária e, com isso, eventualmente tirar a nobreza daquele ou deve – ao contrário – mostrar uma face mais moderna e mercadológica, como um agiornamento que permite o consumidor a usufruir de um Pio Cesare num almoço normal de dia de semana, coisa inviável até então, visto que o grande vinho piemontês exige ao menos uma hora e meia de respiração, o que faz com que ele seja pouco consumido por entendidos em restaurantes, sem contar, é óbvio, que seu preço, por si, inviabiliza o seu acesso aos mortais mais comuns. Poderíamos dizer então que o Pio Cesare deveria fazer então um empréstimo de prestígio dentro de sua própria casa. Deveria dizer “Langhe Nebiollo. Finalmente um Pio Cesare para o seu almoço”. Nada melhor, um produto que sai da linha da nobreza e entra com grande estilo no mundo das mercadorias pós-aristocratas. Um vinho moderno, com know-how e sisuda seriedade. Um vinho que tem linhagem, estirpe, sem ter que se cercar de artifícios visuais que criem esta imaginação.
tradição da casa centenária e, com isso, eventualmente tirar a nobreza daquele ou deve – ao contrário – mostrar uma face mais moderna e mercadológica, como um agiornamento que permite o consumidor a usufruir de um Pio Cesare num almoço normal de dia de semana, coisa inviável até então, visto que o grande vinho piemontês exige ao menos uma hora e meia de respiração, o que faz com que ele seja pouco consumido por entendidos em restaurantes, sem contar, é óbvio, que seu preço, por si, inviabiliza o seu acesso aos mortais mais comuns. Poderíamos dizer então que o Pio Cesare deveria fazer então um empréstimo de prestígio dentro de sua própria casa. Deveria dizer “Langhe Nebiollo. Finalmente um Pio Cesare para o seu almoço”. Nada melhor, um produto que sai da linha da nobreza e entra com grande estilo no mundo das mercadorias pós-aristocratas. Um vinho moderno, com know-how e sisuda seriedade. Um vinho que tem linhagem, estirpe, sem ter que se cercar de artifícios visuais que criem esta imaginação.
Evidentemente, este argumento serve a centenas de grandes vinhos modernizados. Serve mais ainda, para aqueles que precisam revitalizar a imagem por mil razões. O Chianti Classico fugiu de sua embalagem de cestinha, quando quis ampliar seu mercado para além das cantinas e das macarronadas de Domingo. Ele mesmo, aliás, criou uma restrição visualmente reconhecível como certificado de qualidade, o “Galo Nero”, prova de espaço geográfico restrito e condições de vinificação estabelecidas. Mas o produtor que não tem uma tradição própria para se apegar, uma base material conquistada e definida como ponto de partida, se vê obrigado a procurar outros valores para levar o seu público-alvo ao consumo por impulso, ou seja, a fazer com que a comunicação leve o consumidor à experimentação.
Então, como fazer? Para quem não tem grandes tradições e já divulga sua marca há muito tempo, um novo produto deve ser tratado com a sua especificidade, atingindo camadas inferiores ou superiores do target a que ele se dirige. No caso citado acima do Pio Cesare, certamente a comunicação deveria ser mais jovial, com traços de modernidade. O caso contrário também é possível. Empresas como as brasileiras, que nasceram produzindo vinhos simples, podem aspirar legitimamente a ter um produto de classe. É o caso, só para citar o que primeiro me ocorre, da Salton, que resolveu investir nos produtos Desejo, Talento e linha Volpi para ganhar uma segunda dimensão que se sobrepôs na cabeça do consumidor, por mais que isso não seja tão fácil assim, como seu recentemente falecido presidente sabia reconhecer, com inteligência e humildade; pois para este consumidor, será sempre mais fácil assimilar um produto mais barato numa linha de produtos de uma marca Top, do que aceitar um produto mais caro numa linha de produtos com poucas pretensões. Como o produtor do produto mais popular e acessível do mercado – o Chalise – pode, ao mesmo tempo, ser o produtor do produto mais nobre – o Talento – perguntar-se-á o consumidor desconfiado… Uma solução tem sido agregar valor à marca por associação de tecnologia, arte e prestígio. Alguns gigantes da Europa e dos EUA como a Robert Mondavi e o Chateau Rotschild, saíram de seus países de origem para transformar, por exemplo, a Concha Y Toro – um conglomerado chileno que produzia apenas vinhos simples – em produtor de ícones como são Don Melchor e Almaviva, sem entrar no mérito da qualidade indiscutível destes produtos.
Salton, que resolveu investir nos produtos Desejo, Talento e linha Volpi para ganhar uma segunda dimensão que se sobrepôs na cabeça do consumidor, por mais que isso não seja tão fácil assim, como seu recentemente falecido presidente sabia reconhecer, com inteligência e humildade; pois para este consumidor, será sempre mais fácil assimilar um produto mais barato numa linha de produtos de uma marca Top, do que aceitar um produto mais caro numa linha de produtos com poucas pretensões. Como o produtor do produto mais popular e acessível do mercado – o Chalise – pode, ao mesmo tempo, ser o produtor do produto mais nobre – o Talento – perguntar-se-á o consumidor desconfiado… Uma solução tem sido agregar valor à marca por associação de tecnologia, arte e prestígio. Alguns gigantes da Europa e dos EUA como a Robert Mondavi e o Chateau Rotschild, saíram de seus países de origem para transformar, por exemplo, a Concha Y Toro – um conglomerado chileno que produzia apenas vinhos simples – em produtor de ícones como são Don Melchor e Almaviva, sem entrar no mérito da qualidade indiscutível destes produtos.
Isto fica evidente quando o mercado saúda um automóvel como o Smart ou o Classe A e os reconhece como Mercedes Benz. E no sentido contrário, fica mais patente ainda, quando a VolksWagen – um carro que se notabilizou como barato, econômico, simples e durável – esporadicamente lança um Top de linha para concorrer com seus adversários alemães BMW e Audi. Por conta da sua imagem, a VW é penalizada, obrigada que é, a competir com preço abaixo dos adversários diretos e com isso, perder lucratividade, quase sempre não encontrando solução de continuidade para o projeto, até porque é sócia responsável de sua concorrente Audi.
Um artifício de péssimo gosto, mas muito utilizado é o de usar de elementos muito similares ao dos usados pelo produto que serve de exemplo daquela faixa de consumo. Rótulos que praticamente imitam, nomes que lembram e se associam, títulos que enganam os incautos. Por aqui, ingenuamente e não por acaso, os primeiros produtores de vinho em garrafa de 750ml davam nomes franceses a seus vinhos. Era um tal de Chateau, de Condes e condados, que pareciam vinhos importados da França e não de Bento Gonçalves e arredores. Sem personalidade própria formada, usando de uvas européias de pouca qualidade, pretendiam induzir o consumidor a satisfazer-se com sua origem imaginada.
Os australianos saltaram fora da tradição ritualística do vinho e racionalizaram sua comunicação é apresentação de maneira radical por mais que torçamos o nariz para as tampas de rosca de metal (screw cap) e rolhas sintéticas, fugindo dos preços cada vez mais exorbitantes das rolhas. Com isso, puderam atrair um público em nada ligado às tradições do vinho, pois eram estes principalmente neófitos que davam seus primeiros passos para ingressar neste novo mundo. E esta proposta invadiu os rótulos e contra-rótulos, os nomes de cada proposta de vinho, os anúncios e promoções. Hoje em dia, é fácil encontrar produtos do mundo inteiro com propostas de modernidade. Vinhos da África do Sul com rótulos que lembram bichos autóctones, rótulos de uma elegante simplicidade vindos da Itália ou da Espanha, propostas modernas que estão a milhas de distância da sisuda apresentação dos vinhos de Bordeaux.
 Para finalizar este artigo que parece não ter fim, é preciso sempre lembrar os rótulos dos Rothschild – mais uma vez citados aqui – que desde a década de 40 entregam seus rótulos anuais para um artista plástico consagrado por ano, como Picasso ou Niki de Saintfale. Será que este ineditismo tem a ver com o fato de ser este o único vinho que passo da categoria de segundo vinho para primeiro na qualificação dos Bordeaux que se mantém imutável desde 1855, sendo esta a única exceção. Parece não de todo despropositado pensar que é também esta marca pertencente a uma família que, melhor do que reis, condes e princesas, soube passar do mundo da aristocracia para o olhar concreto do capitalismo.
Para finalizar este artigo que parece não ter fim, é preciso sempre lembrar os rótulos dos Rothschild – mais uma vez citados aqui – que desde a década de 40 entregam seus rótulos anuais para um artista plástico consagrado por ano, como Picasso ou Niki de Saintfale. Será que este ineditismo tem a ver com o fato de ser este o único vinho que passo da categoria de segundo vinho para primeiro na qualificação dos Bordeaux que se mantém imutável desde 1855, sendo esta a única exceção. Parece não de todo despropositado pensar que é também esta marca pertencente a uma família que, melhor do que reis, condes e princesas, soube passar do mundo da aristocracia para o olhar concreto do capitalismo.
Mais um texto do amigo e colaborador, agora com participação quinzenal aos sábados, Breno Raigorodsky; 59, filósofo, publicitário, cronista, gourmet, juiz de vinho internacional e sommelier pela FISAR. Para acessar seus textos anteriores, clique em Crônicas do Breno, aqui do lado.